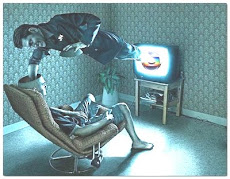Enviado por luisnassif, dom, 16/10/2011 - 09:22
Por Assis Ribeiro
Faltam árbitros
Da Carta Capital Delfim Netto 15 de outubro de 2011 às 12:55h
 A crise que atingiu o sistema financeiro nos Estados Unidos em 2007-2008 e ressurgiu na Eurolândia com todo ímpeto no início de 2011, interrompendo mais uma vez o circuito econômico, já custou 5% do PIB mundial, deixou desempregados mais de 30 milhões de trabalhadores que ganhavam a vida honestamente e ajudou a inflar o mapa da fome até um volume recorde de 900 milhões de seres humanos, a crer em uma recente pesquisa da ONU.
A crise que atingiu o sistema financeiro nos Estados Unidos em 2007-2008 e ressurgiu na Eurolândia com todo ímpeto no início de 2011, interrompendo mais uma vez o circuito econômico, já custou 5% do PIB mundial, deixou desempregados mais de 30 milhões de trabalhadores que ganhavam a vida honestamente e ajudou a inflar o mapa da fome até um volume recorde de 900 milhões de seres humanos, a crer em uma recente pesquisa da ONU.Ela voltou a se manifestar com enorme virulência, quando já se acreditava que as principais lideranças políticas do Ocidente tinham finalmente decidido atacar o problema central da economia, com políticas de incentivo ao setor produtivo e de ampliação dos investimentos públicos de maior demanda de mão de obra, para reduzir os dramáticos níveis de desemprego. Nos Estados Unidos, o presidente Obama lançou, a todo risco, o seu programa para reanimar a economia e tentar recuperar empregos, como principal iniciativa de sua campanha pela reeleição no fim de 2012. Depende muito do comportamento da oposição republicana no Congresso. Não se pode esperar nenhuma mudança de mais profundidade na economia antes da definição nas urnas.
Na Europa, onde a forte pressão das ruas não dá trégua aos governantes, as atenções estarão voltadas daqui até o fim do ano para o resgate dos bancos, diante da ameaça de quebra de grandes instituições, comprometendo ainda mais os recursos comunitários. Os governos cúmplices não têm outra coisa a fazer a não ser apoiar as medidas de salvação do sistema financeiro, a custa de maior endividamento de seus povos.
A recidiva da crise na Eurolândia mostrou, outra vez, as limitações dos nossos conhecimentos de como funciona, de fato, o sistema econômico. Mostrou mais: a precariedade do que parecia uma revolução científica: a construção da economia financeira, separada da macroeconomia por pequenos economistas, supostos grandes matemáticos!
O economista é um cientista social que procura entender como funciona o mundo real e não impor-lhe o que gostaria que ele fosse. O resultado do seu trabalho deve ajudar a lubrificar o funcionamento das instituições que levam ao desenvolvimento sustentável com justiça social. Nem toda atividade social é de interesse da economia, mas toda atividade econômica é de interesse social.
A pobre discussão que envolveu a ideia de “Estado mínimo”, por exemplo, era apenas uma ação ideologicamente motivada. Na verdade, não existe “mercado” sem um Estado capaz de garantir as condições de seu funcionamento. Em uma larga medida, a forma de organização do sistema produtivo é ditada pelos que detêm o poder político e formulam a política econômica que serve aos seus interesses. A sua construção teórica e a formalização para justificá-la também são um produto ideológico. Basta ver como a tomada do poder pelas finanças, nos EUA, levou a uma política econômica que lentamente erodiu a legislação que regulava suas atividades e fora produzida após a Grande Depressão. Muito rapidamente os “cientistas” produziram uma “ciência infusa” que justificava a total desregulamentação da atividade financeira em nome da “eficiência” e da descoberta de “inovações” capazes de medir os “riscos”: nunca mais aconteceria um 1929!
É preciso incorporar no DNA dos economistas a certeza da autonomia do poder político. Nas situações de conflitos irreconciliáveis, só o ente político pode arbitrar. Acertando (como o aristocrata Roosevelt em 1933 e o operário Lula em 2008), ou errando (como o herdeiro Bush em 2007 e o surpreendente Obama em 10 de setembro de 2008) eles arbitraram, para o bem ou para o mal… Os Estados Unidos, tendo falhado de início, ainda vão se safando, mas a Eurolândia, infelizmente, sofre as consequências de uma séria escassez de lideranças.
Em cada país, os economistas estão diante de um novo e excitante momento. Devem procurar entender as novas oportunidades que se abrem à profissão para renovar o trabalho mais modesto de oferecer instrumentos para a boa governança dos Estados e a melhor alocação dos seus recursos. A Economia precisa voltar a abrigar contribuições de todos os matizes, teóricos e ideológicos, porque aqui, como na Biologia, só a diversidade é fértil. Os economistas, por sua vez, precisam recuperar a História, a Geo-grafia, a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia e usar mais modestamente a Topologia… •
http://www.cartacapital.com.br/economia/faltam-arbitros
.