03/10/2016
O artigo do juiz Ricardo Lourenço Filho e do Procurador do Trabalho Cristiano Paixão trata de decisões recentes que, na prática, suprimem o direito de greve previsto na Constituição. No entanto, o ponto de partida de sua análise tem abrangência maior para a compreensão do processo de fascistização da Justiça brasileira, gestora do atual golpe de estado.
Explica em que se funda a excepcionalidade de estruturas como a que foi montada para a Lava-Jato e de outras que certamente surgirão espalhando “infernos legais” com leis próprias ou leis nenhumas – infernos grandes ou pequenos, como essa escola para cuja desocupação por estudantes de ginásio o juiz Alex Costa de Oliveira, da Vara da Infância e Juventude de Brasília, autorizou o uso de técnicas de tortura avalizadas pela Cia para emprego contra terroristas (coisa que a PM, com maior bom senso, optou por não fazer).
Mostra que, para a Lava-Jato, a identificação do Partido dos Trabalhadores como “inimigo público” é essencial para a aceitação dos métodos excepcionais – mistura de critérios policiais herdados da Inquisição com doutrinação do FBI – utilizados na condução do processo.
Citando:
“Foi
quando (na década de 1990, na Alemanha), Gunther Jakobs, professor e
jurista, concebeu a teoria do direito penal do inimigo. Segundo essa
teoria, certos indivíduos representariam um perigo à própria
sobrevivência da sociedade, razão pela qual não mereceriam o mesmo
tratamento reservado a cidadãos que transgredissem normas penais. Por
representarem ameaça à sociedade como corpo social, esses indivíduos não
seriam beneficiários das garantias constitucionais e processuais
aplicáveis a réus e acusados em geral. Sobre eles deveria recair uma
lógica de prevenção, de antecipação das forças da ordem em relação a uma
possível prática de crimes.”
O STF e o direito do trabalho do inimido
Cristiano Paixão e Ricardo Lourenço Filho, no jota.info
A década de 1990 trouxe uma onda conservadora ao direito penal. Isso começou com as políticas de “tolerância zero” do ex-prefeito de Nova Iorque Rudolph Giuliani, que se constituíam em mal disfarçadas medidas de combate aos pobres e sem-teto. A Alemanha não poderia ficar atrás no arsenal de medidas inovadoras no campo do retrocesso penal.
Foi quando Gunther Jakobs,
professor e jurista, concebeu a teoria do direito penal do inimigo.
Segundo essa teoria, certos indivíduos representariam um perigo à
própria sobrevivência da sociedade, razão pela qual não mereceriam o
mesmo tratamento reservado a cidadãos que transgredissem normas penais.
Por representarem ameaça à sociedade como corpo social, esses indivíduos
não seriam beneficiários das garantias constitucionais e processuais
aplicáveis a réus e acusados em geral. Sobre eles deveria recair uma
lógica de prevenção, de antecipação das forças da ordem em relação a uma
possível prática de crimes.
Em 2016, uma onda conservadora
atingiu o direito do trabalho no Brasil. O órgão responsável por essa
desconstrução das regras e princípios que regem o mundo do trabalho é o
Supremo Tribunal Federal. Em duas decisões recentes, o Supremo inovou.
Ele criou a figura do direito do trabalho do inimigo.
Ao julgar dois processos que
envolviam o direito de greve de empregados e servidores públicos, o
Tribunal acabou por impedir, em termos práticos, o exercício desse
direito. Analisemos as duas decisões.
A primeira delas é a decisão
monocrática proferida na Reclamação nº 24.597/SP. O caso envolvia greve
deflagrada pelos empregados públicos do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Diante da paralisação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região já
havia determinado a manutenção de 70% dos trabalhadores e prestadores
dos serviços de todos os setores do Hospital, sob pena de multa diária.
Com a Reclamação proposta pelo Hospital, o STF estendeu a todos os
empregados a determinação de continuidade dos serviços, mantida a
penalidade. Na prática, houve a proibição de exercício do direito de
greve.
É importante observar as referências
feitas na decisão. Uma delas, e talvez a mais importante, é à decisão do
Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 6.568/SP (DJe de
25.9.2009). Naquela ocasião, submeteu-se ao STF a decisão sobre a
competência para julgar os conflitos decorrentes de greve deflagrada por
policiais civis do estado de São Paulo. Em uma argumentação lateral,
alheia à controvérsia, o Ministro Relator, Eros Grau, fazendo referência
a São Tomás de Aquino, expressou o entendimento de que “(…) tal qual é
lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa
do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do
bem comum”.
Em outra passagem, observou, então, que “a conservação do
bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam
privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e
efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela
Constituição do Brasil”.
A segunda decisão, proferida pelo
Plenário do STF, por maioria de seis votos contra quatro, deliberou
sobre a questão do corte do ponto dos servidores públicos em greve (RE
693.456-RJ). De forma expressa, o Supremo Tribunal decidiu que o
administrador público não só pode, mas tem o dever de cortar o ponto de
servidores grevistas. O resultado do julgamento, em processo com
repercussão geral, foi o de que a regra será o corte do ponto (e
consequente suspensão do pagamento dos vencimentos) assim que a greve se
iniciar.
O que há em comum nas duas decisões, além da completa incompreensão do significado do conceito de greve?
O fato de que, preventivamente, são
adotadas medidas para inviabilizar o exercício do direito de greve. Por
um lado, permitindo-se que determinadas categorias de servidores sejam
privados, por princípio, da possibilidade de entrar em greve. Por outro,
ao impor um desconto na remuneração que incidirá assim que o movimento
paredista for desencadeado.
É rigorosamente a mesma lógica
utilizada na teoria do direito penal do inimigo. Para evitar que o “mal”
(a greve no setor público, na visão do STF) se concretize, adotam-se
medidas que combatam, “na raiz”, qualquer movimento de paralisação,
inviabilizando, em termos práticos, o exercício do direito.
Chama a atenção a radicalidade dos julgamentos do STF nesta matéria. Como se sabe – e já enunciado em recente artigo publicado no Jota
–, a Constituição de 1988 foi bastante clara e precisa quanto à
amplitude do exercício do direito de greve, consignando, em seu art. 9º,
ser assegurado “o direito de greve, competindo aos trabalhadores
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que
devam por meio dele defender”. No art. 37, inciso VII, por sua vez, o
direito é estendido aos servidores públicos sem restrição prévia do
campo normativo, sendo prevista apenas a edição de lei específica para
fixar termos e limites do exercício do direito. Não há espaço
interpretativo para a proibição desse direito.
As decisões do STF privilegiam,
contudo, o poder repressivo da Administração Pública, quer pela exclusão
de determinadas categorias do direito de greve, quer pela imposição (ou
“dever”) do corte do ponto assim que o movimento for desencadeado. O
que justifica essa leitura, após 28 anos de vigência de uma Constituição
democrática? Como defender esse tipo de interpretação restritiva a
partir de uma Constituição que foi produto de uma mobilização social que
foi marcada, historicamente, pela realização de greves que visavam
melhorias de condições de trabalho e, ao mesmo tempo, a redemocratização
do país?
Apenas o STF poderá conceder essas
explicações, em futuros casos e na publicação dos acórdãos dessas
decisões até aqui adotadas. Algo, contudo, já está claro. O trabalhador
do setor público que procurar, por meio da ação coletiva da greve,
apresentar demandas e lutar por seus direitos, passará a ser visto como
inimigo do Estado e da sociedade. A repressão do poder público poderá
ser ativada de imediato. Quando isso ocorreu ao longo da história do
Brasil – em várias oportunidades –, o Poder Judiciário era o único
recurso disponível aos trabalhadores. Em algumas circunstâncias, juízes e
tribunais decidiram, de modo corajoso, proteger o exercício desse
direito, mesmo em tempos ditatoriais.
À época do regime militar, o governo,
junto ao Congresso Nacional, cuidou de editar normas que
inviabilizavam, na prática, o exercício do direito de greve. A Carta de
1967 e a EC nº 1/1969 proibiam a greve aos servidores públicos e nas
atividades consideradas essenciais. No período democrático atual, o
papel de estabelecer restrições ao direito de greve foi assumido pelo
Supremo Tribunal Federal.
De modo tremendamente irônico,
portanto, a lógica se inverteu. Na democracia, com uma Constituição que
assegurou o direito de greve, a repressão não será apenas tolerada pelo
Poder Judiciário. Ela acaba de ser ordenada a todo administrador público
que se deparar com a deflagração de uma greve. E tudo isso por força de
duas decisões do Supremo Tribunal Federal, órgão encarregado de zelar
pela guarda da Constituição.
Muitos trabalhadores desafiaram as
limitações estabelecidas pela ditadura militar ao direito de greve.
Especialmente a partir de 1976, passaram a reescrever a história do
movimento sindical desafiando abertamente os órgãos de repressão ou
simplesmente ignorando as práticas de proibição e restrição ao exercício
do direito. Com isso, foram protagonistas da resistência ao arbítrio e
da redemocratização.
Qual será atitude dos trabalhadores
no atual momento, em que a repressão tem origem numa decisão plenária do
órgão de cúpula do Judiciário? Conseguirão resistir? De que forma?
.




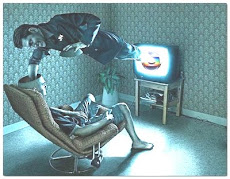













Nenhum comentário :
Postar um comentário
Veja aqui o que não aparece no PIG - Partido da Imprensa Golpista